DESENVOLVIMENTO
Síntese do enredo
A história narrada nesse romance desenrola-se no Rio de Janeiro no final do século XIX, havendo até mesmo uma referência explícita ao ano de 1891 (p. 31). Um dos protagonistas é Francisco Teodoro, que imigra de Portugal e, movido pela ambição, aproveita a valorização do café para construir um rico patrimônio.
Teodoro arranja um casamento de conveniência com a moça Camila para solucionar o problema da destinação de sua riqueza. Camila torna-se amante do médico da família, Dr. Gervásio. Quem efetivamente dirige a casa é Nina, sobrinha bastarda de Camila, que nutre silenciosa paixão por Mário, filho de Francisco Teodoro e Camila.
O bem-sucedido comerciante Francisco Teodoro, seduzido pelas palavras do espertalhão Inocêncio Braga, investe quase todo seu capital na Bolsa de Valores, dá-se mal e vai à falência (daí o título do romance). Desesperado pela iminência da pobreza, o comerciante suicida-se. A morte do marido é muito sentida pela esposa, reação até certo ponto surpreendente.
Quando tudo indica que a viúva se casaria com seu amante, eis que o Dr. Gervásio confessa a Camila que é casado e que, apesar de separado da mulher por esta ter cometido adultério, não tinha conseguido dela o divórcio, o que o impedia, legalmente, de contrair novas núpcias.
Desiludida pelo fato de o amante ter-lhe ocultado toda essa história e sem riqueza, Camila, com suas filhas Ruth, Raquel e Lia, a sobrinha Nina e a criada Noca, abriga-se em uma casinha de subúrbio, que o próprio Francisco Teodoro, nos tempos de bonança, havia dado a Nina. As mulheres, então, buscam no trabalho o sustento do grupo. Camila manda buscar as filhas Raquel e Lia, que estavam em casa de pessoa amiga da família, e a narrativa termina, não com o tradicional final feliz romântico, a felicidade sonhada; mas com o final sereno de uma felicidade possível.
Personagens
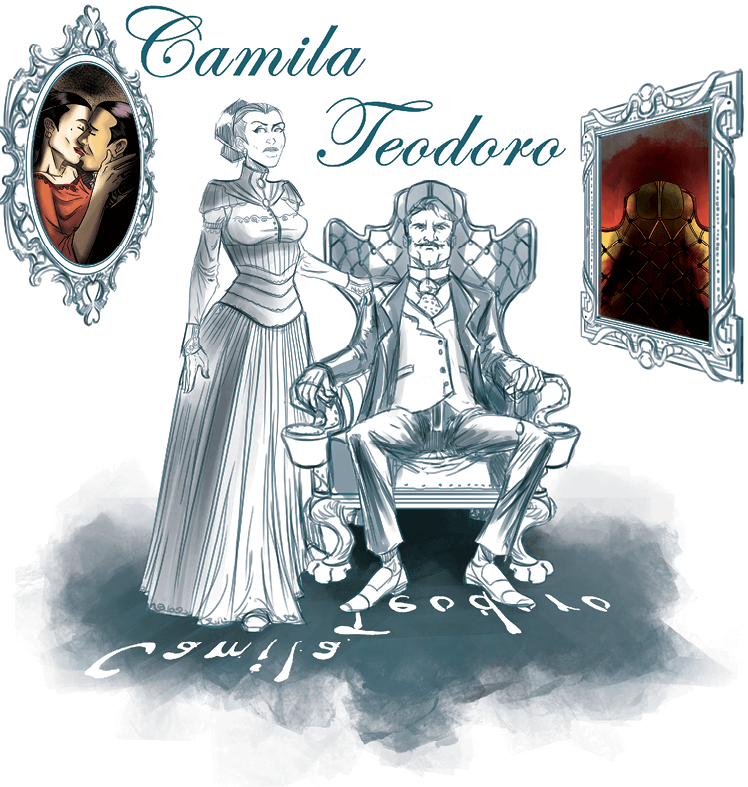
Protagonistas
Reconhecemos como protagonistas dessa trama as personagens que atuam no principal eixo dramático: o triângulo amoroso composto pelo comerciante Francisco Teodoro, sua esposa Camila e o médico Dr. Gervásio, amante de Camila. Vamos observar mais de perto cada um desses protagonistas para melhor entendermos o conflito em que se envolveram.
Francisco Teodoro – É o primeiro protagonista apresentado na narrativa. Está em seu gabinete, “acabando de fechar uma carta” (p. 30). Algumas linhas adiante, lemos:
A trajetória da conquista dessa riqueza vai se revelando aos poucos:
Devotado ao trabalho de forma ascética, tem, assim como seus pares, “um soberano desprezo pelas classes intelectuais” (p. 37). Sua riqueza vem sendo construída “com lágrimas, com sacrifícios, com tantos anos de esforço e de labor!” (p. 39). “Ter a maior fortuna, tendo partido do nada, era toda sua ambição” (p. 58). É esse o sentimento que impulsiona o comerciante, que experimenta “o gozo material da riqueza” (p. 254), mas uma sombra tolda seu pensamento: o Gama Torres, comerciante rival, está sendo muito exaltado pelo arrojo com que se lança no jogo comercial, inclusive no arriscado investimento na Bolsa de Valores. “Seria justo que o outro, de um pulo, erigisse edifício mais alto e glorioso do que o seu [...]?” (p. 38-39).
Francisco Teodoro não é um avarento. Na sua casa, ao contrário, “a fartura passava ao desperdício” (p. 54). Não se importa de gastar com a família ou ajudar hospitais ou igrejas; não admite, porém, investimento mal feito em negócios. É um homem conservador, tanto na política quanto na moral. Isso o faz ver com incômodo esse ganho desprovido de trabalho, suor, mantendo o ideário do espírito capitalista moderno: “Aquela conquista de fortuna, feita de relance, perturbava-o, desmerecia o brilho das suas riquezas, ajuntadas dia a dia na canseira do trabalho. A vida tem ironias: teria ele sido um tolo?” (p. 37). Ele “não podia perdoar a República” (p. 123) e, nas vésperas de seu suicídio, transfere a culpa de sua ruína do mal-intencionado Inocêncio Braga para “a República, que ele invectivava como criminosa, na alucinação do desespero” (p. 312).
A opinião dele sobre as mulheres apenas reflete o senso comum de então: “[...] a vida foi feita para as mulheres. E ainda elas se queixam. Só se fala por aí em emancipação e outras patranhas. A mulher nasceu para mãe de família. O lar é seu altar; deslocada dele não vale nada” (p. 81 – grifo nosso). Teodoro não esconde a frustração com o filho Mário, que despreza o comércio do pai e “voltava as costas à fortuna” (p. 143). Tinha raiva e inveja de seu concorrente Gama Torres, que “jogava na Bolsa como um doido” (p. 144). Sabia que tal jogo é que dera fortuna ao rival.
A sorte de Francisco Teodoro começa a mudar para pior quando ele decide dar ouvidos às palavras sedutoras de Inocêncio Braga, que lhe sugere o investimento na Bolsa de Valores, argumentando que os ingleses ganham “boladas gordas” (p. 211), especulando com inteligência. Espicaçado pela própria vaidade, Francisco Teodoro deixa-se levar pelo canto da sereia e mergulha em uma desastrosa aventura.
O leitor atento percebe que, a partir da aposta fracassada, a personagem de Francisco Teodoro torna-se mais complexa. Seu lado humano amplia-se. Há uma bela passagem em que ele contempla, emocionado, as filhas gêmeas Lia e Raquel dormindo. Poucas páginas adiante, ele reconhece-se em um portuguesinho que encontra no bonde. As lembranças de Portugal evocadas pelo protagonista são sempre muito verossímeis, porque a autora, Júlia Lopes de Almeida, morou lá por alguns anos.
O clima emocional vivido por Francisco Teodoro, às vésperas do suicídio, é reconstituído, na narrativa, com uma pungência que garante sua máxima expressividade. O leitor vai sendo preparado para o desfecho inevitável. Para aumentar a dramaticidade, o protagonista dispara um tiro contra o próprio ouvido no momento exato em que a esposa aparece na porta.
Camila – É a filha mais velha de uma família pobre, mas bem-educada. Um amigo indica-a a Francisco Teodoro como a esposa que este vinha procurando: “Era bonita, alta, com grandes olhos aveludados, cabelo ondeado preto e uns dentes perfeitos, muito brancos...” (p. 46).
Casada com o rico comerciante, Camila sente que “já devia ser um regalo para ela cobrir de boas roupas o seu corpo de neve, ter mesa farta e andar pela cidade atraindo as vistas, no deleite de sua graça...” (p. 48). Ela percebe os encontros amorosos do esposo e chega a fazer este fino comentário sobre os maridos adúlteros: “Eles traem-se com as compensações que nos trazem...” (p. 72). Camila critica os romancistas, que castigam as mulheres nos desfechos dos romances, culpando-as de tudo. Apesar disso, as incursões adulterinas do marido não são suficientes para evitar o sentimento de culpa de Camila quando ela o trai com o Dr. Gervásio, médico da família: “E assim mesmo enganá-lo pesa-me” (p. 72).
O sentimento dela para com o marido vai se transformando à medida que ele vai mergulhando na crise que o levaria ao suicídio. Logo depois do enterro de Francisco Teodoro, pela primeira vez, Camila e Dr. Gervásio repelem-se. No final da narrativa, ela mostra-se arrependida dos “pecados cometidos” (as aspas são nossas). A narradora, colada em Camila, deixa escapar a expressão “aquele velho amor pecaminoso” (p. 337 – grifo nosso). Camila realiza integramente o percurso entre a condição de moça fútil e ociosa do início do casamento até a situação de mulher madura que encontra seu caminho.
Dr. Gervásio – Médico da família de Francisco Teodoro, “era um homem magro, nervoso, de quarenta e três anos, trigueiro e apurado na toilette. Era ligeiramente calvo, tinha um olhar de que as lentes de míope não atenuavam a agudeza, e um sorrisinho irônico, que lhe mostrava os dentes claros e miúdos como os dos roedores” (p. 50-51).
Trata-se de um homem culto, conhecedor de Mitologia, Literatura e Ciências Naturais. Mesmo não sendo religioso, falando do Catolicismo, o médico reconhece a contribuição dessa religião para a História da Arte: “Acho-a [a religião católica] muito triste, toda voltada para a morte [...]. Não lhe quero mal, porque para sua glorificação ela tem criado catedrais que são verdadeiras apoteoses da arte” (p. 182). Para ele, “um homem de espírito nunca está só” (p. 55). Sensível observador das pessoas, em uma conversa com Ruth, filha de Camila e Francisco Teodoro, Gervásio argumenta: “Ruth, a influência das cores é grande nas criaturas, mas a das impressões ainda é maior. O Capitão [Rino] tem hoje a alma vestida de branco e perfumada como a sua [dele] rosa vermelha na lapela...” (p. 128).
O médico é uma espécie de flâneur (pessoa sensível e descompromissada, que perambula pelas ruas, praças e parques de uma cidade), que observa detalhes da arquitetura suburbana do Rio de Janeiro de então: “um ou outro telhado colonial... uma ou outra sacada de rótulas...” (p. 96), mas sente repugnância por certos recantos periféricos da cidade: “[Gervásio] aspirava com força o ar do mar, como se quisesse lavar os pulmões do ambiente infecto por que passara” (p. 103 – grifo nosso). Depois de escutar a fala gutural dos papagaios às janelas de humildes casas suburbanas, ele sente que “era preciso fugir daqueles abomináveis bichos” (p. 99). Os sentidos do médico discriminavam as pessoas: “Ao alarido das vozes confundidas, misturavam-se o cheiro do café cru e a morrinha do suor de tantos corpos em movimento, como que enchendo a atmosfera de uma substância gordurosa e fétida, sensível à pele pouco afeita a penetrar naquele ambiente” (p. 91).
Personagens intermediárias
Não são personagens planas, ou seja, não são tipos representativos de comportamentos invariáveis, coincidindo sempre consigo mesmos. Têm sua complexidade, seus conflitos, alguma surpresa nos seus pensamentos ou nas suas ações; não têm, entretanto, o mesmo relevo dos protagonistas.
Nina – A sobrinha de Camila “não era bonita, [tinha] nariz grosso, pele pálida” (p. 53) e “ar de cãozinho batido” (p. 167). Não teve “nem mãe na infância, nem noivo na mocidade” (p. 166). É uma espécie de agregada especial pela relação de parentesco com Camila. Administra toda a casa com grande competência. O amor adúltero de Camila incomoda-a. Às vezes, sente ímpetos de gritar a Francisco Teodoro, “com toda a força, a história daqueles amores que a humilhavam, porque entre ela [Nina] e a tia [Camila], não era a outra, casada e mãe, mas sim ela, órfã e virgem, quem tinha direito àquela felicidade de amar e ser amada...” (p. 257). Nina lembra cenas em que Mário batia nela, quando ela tossia, gritando: “Cala a boca!” (p. 327), e pensa que “calar a boca tinha sido todo o seu trabalho na vida” (p. 327).
Nina cresce como personagem de forma surpreendente no final da narrativa. É dela um belo gesto de desprendimento, quando se dispõe a transferir para as filhas de Francisco Teodoro a mesma casa que havia ganhado dele; e é nessa casa suburbana, reduto final das mulheres que antes habitavam o palacete burguês, que Nina dá o grito redentor de que “era preciso trabalhar” (p. 331).
Capitão Rino – É descrito como “louro e robusto, alto, ombros largos, pele queimada pelos ventos do mar” (p. 52). Esse homem do mar é “um isolado e um melancólico” (p. 192). Ele é o outro flâneur através de quem a narradora mostra a cidade. Leiamos esta descrição de sabor naturalista, quase uma cena cinematográfica (o cinematógrafo estava então nascendo): “[O Capitão Rino] entrou na rua da Prainha, tomou depois a da Saúde, sem notar o aspecto desigual da casaria, os negros tresandando a sebos de carne e meladuras de açúcar esparramadas no solo, onde moscas zumbiam desde a porta da rua até lá no fundo do armazém, aberto para um quadro lantejante (sic) de mar” (p. 193).
É também um ser humano cultivado, que tem, nas estantes de seu vapor Netuno, livros de gênios da literatura universal, como “Virgílio, Homero, Dante, Camões, Shakespeare ...” (p. 124). Tem uma bela relação de cumplicidade com sua irmã Catarina.
Ruth – Filha de Francisco Teodoro e Camila, Ruth tem na música a sua grande paixão. Tem alma de artista: “Mamãe, quando eu me comovo, gosto tanto de tocar. Entendo-me tão bem com a música” (p. 119). É comovente a passagem em que ela descobre outra arte, a pintura: “A maneira por que nascia da tinta aquela carnação tenra e doce [...] fizeram-na estremecer. Era uma arte que se revelava aos seus olhos, como que um mistério que se esclarecia ao seu entendimento. [...] Ruth concebia agora como se podia pintar um quadro” (p. 221). Ela tem o sonho de voar e a alma aberta à fantasia. Desde pequena, “voava agarrada às cordas do balanço” (p. 161).
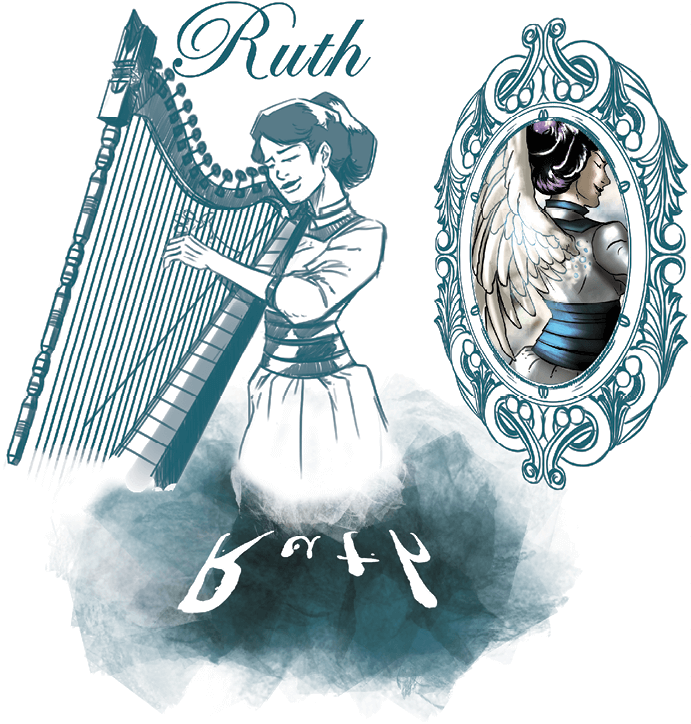
Ruth afasta-se do palacete durante a preparação para uma das grandes festas que a casa de Francisco Teodoro e Camila costuma oferecer. Vai refugiar-se no decadente casarão das tias velhas, onde tem a oportunidade de descobrir um outro lado, bem mais sombrio, da vida. Conhece uma pequena amostra das misérias do mundo através do sofrimento de Sancha, a mulher negra que serve às tias e é surrada com vara de marmelo por uma delas, D. Itelvina:
Não escapará ao leitor contemporâneo o indefectível racismo da época manifesto no vocabulário da narradora, que fala, no trecho acima, a partir da personagem Ruth.
Ruth faz um paralelo entre o que ela vê e sente na própria casa e o que testemunha na casa de D. Itelvina e Dona Joana: de um lado, “a alegria da sua casa risonha” (p. 227); de outro, “a vastidão sombria do aposento mudo” (p. 227); de um lado, “ela, criada entre beijos, no aroma dos seus jardins, com as vontades satisfeitas, o leito fofo, a mesa delicada ...” (p. 237); do outro, “a Sancha, da sua idade, negra, feia, suja, levada a pontapés, dormindo sem lençóis em uma esteira, comendo [...] os restos parcos e frios de duas velhas [...]” (p. 238). Portanto, não é difícil para Ruth concluir que a frase “Deus não desampara ninguém” (p. 239), dita pela beata D. Joana, é falsa.
No final da narrativa, Ruth começa a dar aulas particulares de música para ajudar no sustento do grupo de mulheres que se forma após a falência, seguida do suicídio de Francisco Teodoro. Ruth adere com entusiasmo à ideia do trabalho como saída digna e honrosa da pobreza a que estão relegadas:
– Sim, minha filha, tudo acabou, devo começar vida nova!
Catarina – A irmã do Capitão Rino é uma personagem que representa uma espécie de vanguarda de um pré-feminismo possível naquela conjuntura cultural. Em uma visita da família de Francisco Teodoro ao vapor Netuno, do irmão, Capitão Rino, Catarina inicia um rápido debate com o comerciante, com a seguinte afirmativa: “O senhor é contra a emancipação da mulher, está claro” (p. 132). Francisco Teodoro retruca com a fala do senso comum na ponta da língua: “Minha senhora, eu sou da opinião de que a mulher nasceu para mãe de família. Crie os seus filhos, seja fiel ao seu marido, dirija bem a sua casa, e terá cumprido sua missão” (p. 132); e completa: “– [eu] não quis casar com mulher sabichona. É nas medíocres que se encontram as esposas” (p. 132), o que significa dizer que a educação feminina deveria ter um baixo nível para que a família fosse preservada.
Catarina é uma grande exceção naquela sociedade patriarcal, porque não é amparada por nenhum homem, permanece solteira, tem iniciativas próprias e toma decisões de forma independente.
Personagens secundárias
São personagens planas, tipos humanos marcados por apenas um traço identificador. Sua condição se reduz quase sempre à de figurante. Citemos algumas dessas personagens, com suas respectivas funções:
Seu Joaquim – caixeiro.
Senra – guarda-livros.
Motta – ajudante de guarda-livros.
Gama Torres – comerciante bem-sucedido, rival de Francisco Teodoro.
Inocêncio Braga – responsável direto pelo desvio de conduta de Francisco Teodoro nos negócios.
Senhoras Rodrigues – D. Itelvina (ambiciosa) e D. Joana (beata).
Negreiros – negociante, republicano cercado de monarquistas.
Noca – engomadeira, representa o pensamento mágico.
Sancha – infeliz e maltratada serviçal das tias velhas.
Núcleos dramáticos
O núcleo dramático central compõe-se do triângulo amoroso formado pelo comerciante Francisco Teodoro, sua esposa Camila e o médico da família, Dr. Gervásio. Como se sabe, o adultério é um dos temas relevantes do Naturalismo. Há vários outros pequenos núcleos dramáticos periféricos, dos quais mencionaremos alguns, gravitando em torno do núcleo central. É essa, afinal, a estrutura básica da trama de qualquer romance.
Nessa narrativa, há uma verdadeira ciranda de adultérios: Teodoro tinha suas amantes; Dr. Gervásio, amante de Camila, rejeitara a própria esposa por esta tê-lo traído; a mãe do Capitão Rino foi morta a facadas pelo pai por ter cometido adultério. Na verdade, o adultério masculino nunca interessou ao romance do século XIX, por ser uma prática corriqueira e socialmente aceita.
Em certa passagem de A Falência, o Dr. Gervásio desenvolve uma curiosa e significativa alegoria das honestidades, que mostra, com graça e sutileza, as diferentes consequências sociais dos adultérios masculino e feminino através de duas peças de roupa: um casaco preto (metáfora da honestidade masculina) e um vestido branco (metáfora da honestidade feminina):
Moral da história: o adultério masculino não traz consequências graves, não suja a honra do homem; o feminino é uma mancha que enxovalha a honra da mulher.
Quando Camila repreende o filho Mário pelos amores considerados escandalosos com uma mulher francesa mais velha que ele, alegando que a conduta do filho manchava a reputação da família, Mário impõe a mãe a um silêncio envergonhado com esta resposta: “Reputação! [...] é a senhora que me fala nisso?!” (p. 107).
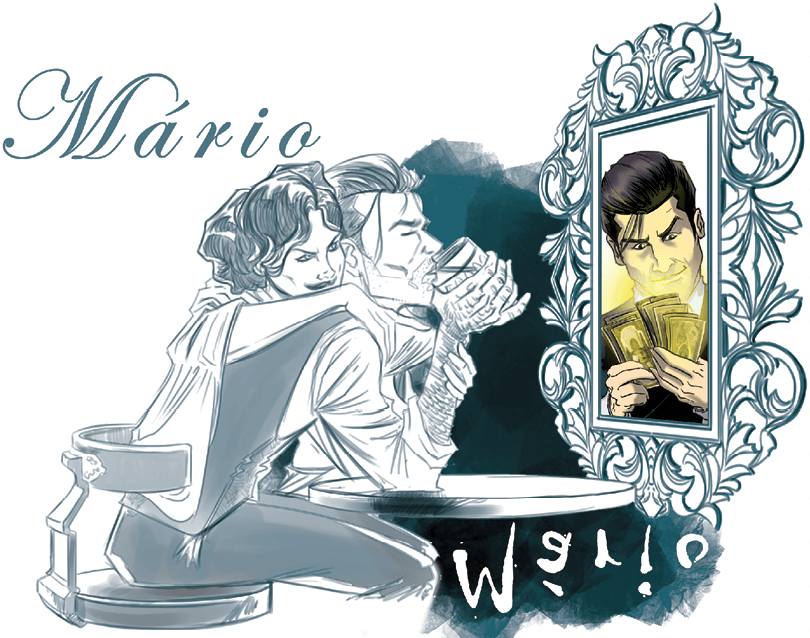
Voltando ao núcleo dramático dominante, veremos que as relações internas do referido triângulo amoroso apresentam significativos desdobramentos: realizado o casamento de conveniência entre Francisco Teodoro e Camila, após as comuns dificuldades iniciais, “tinham-se acostumado um ao outro, viviam em paz...” (p. 48). A narrativa faz um flashback para mostrar como o Dr. Gervásio entrara na vida da família. Ele salvara a vida da filha Ruth de uma grave doença. Desde então, passara a frequentar a casa com crescente assiduidade. Conseguira fazer com que Camila mudasse gradualmente os hábitos. Tais mudanças fizeram o médico apaixonar-se por ela, considerando-a uma “obra sua” (p. 75).
Quando Francisco Teodoro entra no processo final de falência, a dor da compaixão de Camila pelo marido é maior que “o egoísmo a que a vida a acostumara” (p. 302). Se o que ela sente então pelo marido é amizade, trata-se de “uma amizade muito grande” (p. 302), que surpreende o próprio Dr. Gervásio. Na dor, ela ama o marido “mais que o tinha amado na sua [dele] felicidade” (p. 317). A partir daí, Camila ganha um relevo bem maior como personagem.
Para Camila, Dr. Gervásio “ia já sendo (sic) apenas o amigo” (p. 333). O leitor atento percebe que há sempre um elemento da natureza que corresponde às variantes sentimentais dentro do triângulo amoroso. Essa fase de “amizade” entre Dr. Gervásio e Camila corresponde à grande amendoeira: “folhas cor de ferrugem caíam com um rumor tímido” (p. 336). A uma reaproximação amorosa entre Dr. Gervásio e Camila, após a morte de Francisco Teodoro, a natureza assim corresponde: “dir-se-ia uma tarde de outono, e era começo de verão” (p. 337).
Quando Camila, já viúva, decide casar-se com Dr. Gervásio e procura-o para comunicar-lhe a decisão, este lhe revela que continua casado porque a mulher não lhe concedera o divórcio, o que inviabiliza o casamento entre eles. O fato de Dr. Gervásio não a assumir como esposa é sentido por Camila como uma “segunda viuvez” (p. 353):
Camila faz, então, este surpreendente mea-culpa:
Esse mea-culpa mostra uma contradição interna, um conflito íntimo da protagonista Camila. Ao mesmo tempo que ela renega todo o amor que descobrira e que vivera na companhia de Dr. Gervásio, confessa que o ama ainda (advérbio repetido e que encerra a citação). E, ao dizer que, se pudesse recomeçar tudo, seria esposa obediente e fiel a um só homem (provavelmente o marido), ela chama essa relação monogâmica de “insossa domesticidade”, ou seja, vida doméstica sem sal, sem sabor. É preciso estar atento para perceber a diferença entre “ser sujeito” (senhora do próprio destino) e “ser sujeita” (sujeitar-se à vontade de outrem). Acrescentar “obediente, sem imaginação, sem vontade” é o mesmo que sintetizar tudo em um só verbo: anular-se.
Pensamos em três leituras para essa fala de Camila; a primeira é entender esse texto como irônico, ou seja, Camila sabe que a “domesticidade” é “insossa” e finge arrepender-se do adultério cometido; a segunda é simplesmente uma confissão de desistência, de derrota e de aceitação contrariada do status quo; a terceira, na qual não acreditamos, é um verdadeiro arrependimento e uma aceitação também sincera dos preceitos da moral vigente. Essas três ou quaisquer outras interpretações dessa confissão de Camila não anulam a ideia de que essa declaração é a “punição” que a autora encontrou para sua protagonista feminina, podendo, assim, fechar seu romance sem afrontar o conservadorismo daquela sociedade.
Vários conflitos periféricos gravitam em torno desse núcleo dramático central:
A paixão não correspondida do Capitão Rino por Camila levou-o a uma longa viagem para aliviar seu sofrimento, objetivo que, afinal, alcança. O capítulo XXV, o último da narrativa, é um flash forward (um salto para o futuro da trama narrativa), que mostra o regresso do Capitão Rino, com um sorriso de ironia nos lábios. Catarina, percebendo a transformação do irmão, faz-lhe a penúltima pergunta do livro: “– Vais visitá-la [Camila] agora?” (p. 357); a que ele responde com outra pergunta, com que se encerra o livro: “– Para quê?” (p. 357). Ele havia conquistado uma liberdade interior e uma autonomia que faziam dele um homem dono de seu próprio destino.
A negra Sancha é agredida fisicamente pela patroa D. Itelvina (para quem o maior crime era a pobreza) e, emocionalmente, por toda a sociedade racista daquela época. Ela foge de casa, atendendo a um conselho de Ruth, e vê no suicídio a única forma de libertação.
A silenciosa amargura de Nina nasce de seu sonho frustrado de ter seu amor por Mário correspondido. O filho de Camila estava sempre envolvido em amores por outras mulheres não aceitas pela família, o que significa que também Mário vivia suas tempestades íntimas: a decepção do pai, a não aceitação da mãe e a personalidade dominadora da mulher com quem vem, afinal, a casar-se.
A luta solitária de Catarina pelos valores feministas em que acredita não encontra eco naquela sociedade.
Diante do choque de sua refinada sensibilidade com o mundo brutal que a envolve, Ruth foge nas asas de sua arte, a música.
As gêmeas Lia e Raquel são lançadas muito jovens no torvelinho da pobreza após a traumática morte do pai.
Noca sofre seus constantes medos com os funestos sinais de tragédia que ela identifica numa “borboleta azul” (p. 217), numa “coruja [que] passou” (p. 165) ou em um “azeite entornado” (p. 89). E ainda internaliza os estereótipos raciais: “A culpa era do sangue, da sua raça, que menos estima os superiores quanto mais estes a afagam” (p. 149).
Espaço
A autora, através de sua narradora em terceira pessoa, mostra o Rio de Janeiro, tanto no espaço elitizado da Rua do Ouvidor quanto nas pobres casas e ruas da periferia. Para mostrar-nos cenas e lugares, vale-se principalmente de dois personagens que, movidos por estímulos e circunstâncias diferentes, percorrem as ruas do Rio de Janeiro como aqueles flâneurs da literatura francesa faziam em relação a Paris.
Acompanhemos um desses viandantes, o Dr. Gervásio, atravessando “aquelas altas ruas despenhadas em escadarias imundas e barrancos” (p. 104), chegando à Rua do Ouvidor, onde recebe “em cheio o aroma das flores frescas [...] e a graça de uma mulher que passava com um chapéu atrevido e um vestido bem feito” (p. 104).
No espaço externo, a ênfase recai nos subúrbios, encenando “uma cidade alheia, infernal, preocupada bestialmente pelo pão” (p. 94), e as imagens usadas para retratar os miseráveis ambientes marginalizados lembram descrições sensoriais de um Aluísio de Azevedo ou de um Adolfo Caminha.
O dinamismo das cenas de rua é recriado pela repetição de verbos de movimento: “Já de outras ruas descia aquela onda quente, arfante de trabalho, vinha da rua dos Beneditinos e vinha dos armazéns da rua Municipal...” (p. 27 – grifos nossos).
O mar, às vezes, se faz presente, sobretudo porque uma das personagens dessa trama é um homem do mar, o Capitão Rino. A narradora pinta com palavras uma bela paisagem marinha, com vivo cromatismo (as cores espalham-se por todo o livro):
Há um vivo contraste, também, entre ambientes internos. Tomemos como exemplo a opulência do palacete da família de Francisco Teodoro e a ruína do casarão das velhas tias do Castelo.
Do palacete, estes recortes de cores e brilhos:
“Sobre o contador, o cavalheiro de capa e espada desenhava na parede cor de avelã a sombra de sua atitude arrogante e viva [...].
Do velho casarão, este retrato de abandono e melancolia:
As muitas referências a cuidados com jardins sinalizam um apreço pela natureza, mesmo que domada e inserida no espaço urbano:
No final da narrativa, ainda a presença do jardim:
Não é nenhum exagero ver em Júlia Lopes de Almeida uma pioneira das preocupações ecológicas, que ocupariam tanto espaço na consciência do homem dos séculos XX e XXI.
Estilo de época e estilo individual
Tentar classificar A Falência rigorosamente em um estilo de época é tarefa tão difícil quanto desimportante. Na verdade, a autora vale-se de recursos formais presentes tanto no Romantismo quanto no Realismo-Naturalismo, sem perder de vista modelos consagrados na literatura francesa, como Balzac, Flaubert e Maupassant. Pelo seu caráter eclético, o Pré--Modernismo seria, a nosso ver, o rótulo estilístico que melhor abarcaria o romance que estamos estudando.
Quanto às marcas estilísticas individuais, vamos nos limitar àquelas mais reincidentes:
• Caricatura – Exagero do que já é em si exagerado. No início da narrativa, uma das personagens obscuras da trama é apresentada por um traço caricatural: “O Negreiros, tendo [...] enfiado pelo escritório o seu enorme nariz de cavalete [...] (p. 33 – grifo nosso). Outro ótimo exemplo está na observação feita pelo Capitão Rino, via narradora, que vagava pelas ruas para atenuar os ciúmes que sentia do Dr. Gervásio, ao deparar-se com dois sacerdotes: “[...] dois padres moços, de batina, atravessaram o largo como dois pontos de exclamação em um quadro vasto de sol” (p. 196). O Comendador Lemos também é apresentado caricaturalmente: “[...] franzindo o narizinho submerso entre duas bochechas, que nem de criança” (p. 31). A zoomorfização (personagens com traços animalescos) tem sua dimensão caricatural: “– Vejam lá, rosnou o Lemos, com a papada trêmula [...]” (p. 35 – grifos nossos).
• Vocábulos estrangeiros – Emprego de palavras estrangeiras antes que ganhassem as feições com que se acomodariam nos dicionários da Língua Portuguesa no Brasil. Anglicismos: bond, beef, spleen, etc. Galicismos (mais numerosos): abat-jour, toilette, peignoir, matinée, buffet, chic, etc.
• Personificação (Animismo) – Tanto vegetais quanto seres inanimados começam a reagir como criaturas humanas: “[...] a mobília [...] tomava uma feição de espanto” (p. 286); “um hálito ardente de verão bafejava toda a rua febril” (p. 39); “Dir-se-ia que o dinheiro aprendera sozinho o caminho de seus cofres [...]” (p. 29); “[...] aqueles prédios teriam ouvidos com que escutassem músicas vagabundas?” (p. 93).
• Metonímia – Figura de estilo que se vale da parte pelo todo ou vice-versa, e que só ganharia prestígio na literatura modernista de Oswald de Andrade, já tem significativa presença nesta narrativa:
• Símile (Comparação) – Aproximação por semelhança. As metáforas também são comparações, só que com um nível mais alto de abstração, traduzido na ausência do conetivo comparativo, indispensável à concretude da comparação. Sintetizando, diríamos que a metáfora é uma comparação implícita; e a comparação, uma metáfora explícita. A preocupação com a clareza privilegia o símile.
• Lusitanismos – Júlia Lopes de Almeida viveu alguns anos em Portugal e desse tempo ficou-lhe uma certa feição lusitana na escrita, particularmente no vocabulário:
A autora não se vale da linguagem coloquial para caracterizar nenhuma personagem pertencente aos estratos mais humildes da população, nem para sugerir cor local. Não faz concessão ao provincianismo. Seus diálogos são convincentes porque muito naturais. São reconhecidos pelos críticos que se debruçam sobre sua obra a elegância, a correção da escrita e o ritmo harmonioso das frases.
O fato de concordarmos com esses críticos não nos impede de surpreender aqui e ali alguns pequenos deslizes normativos ou estilísticos da nossa autora, como esta cacofonia: “uma criança por cada mão” (p. 68); este pleonasmo vicioso: “encarando as criaturas de frente” (p. 15); o número excessivo de reticências (um cacoete de época); e alguns clichês, como “com os olhos rasos de água” (p. 202), “músculos de aço” (p. 27) e “resignação de cachorro” (p. 42). Mas esses pequenos senões não chegam a perturbar o juízo plenamente favorável que tivemos deste romance tão pouco estudado em nossa história literária.
